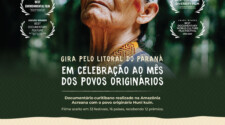Lançado em 1957, On the Road é o marco inicial para todo um movimento que ajudou a alterar a rota da humanidade, apontando novos caminhos
Jean-Louis Lebris de Kerouac era um jovem nascido em Lowell, Massachussets, no nordeste dos EUA, em 1922. Aspirante a escritor, contava 25 anos quando pegou a estrada pela primeira vez, em 1947. Por essa época já era denominado Jack.
Jack Kerouac saiu de Nova York, onde ingressara na Columbia University, como jogador de futebol americano — uma forma de os pobres da América adentrarem as faculdades, na condição de atletas —, e devido a uma contusão começara a frequentar a biblioteca da instituição, o que o fez ingressar no mundo da literatura.

Mochila nas costas e 50 dólares no bolso, Jack seguiu a estrada pegando caronas. Rumou para Denver, no Colorado, e foi parar em São Francisco, percorrendo costa a costa do país continental. Repetiu a dose por quatro vezes ao longo de três anos.
Em 1951, embalado por benzedrina e café, Jack escreveu em apenas três semanas o relato de suas quatro viagens, realizadas entre 1947 e 1950, o que incluiu daí uma passagem pelo México. Assim nasceu o livro On the road (Pé na Estrada no Brasil, em tradução livre de Eduardo Bueno, ed. Brasiliense, 1984).
O calhamaço foi publicado em 1957, após várias alterações. Tornou-se um clássico da literatura, em cuja narrativa está presente aquilo que veio a se chamar “fluxo de consciência”. Algo como se Kerouac escrevesse “da forma como se pensa”. Mais precisamente: uma “prosa espontânea”.

“Certa manhã, deixando meu espesso manuscrito incompleto sobre a escrivaninha e dobrando pela última vez meus confortáveis lençóis caseiros, parti com meu saco de viagem no qual poucas coisas fundamentais haviam sido arrumadas, caindo fora em direção ao Oceano Pacífico com 50 dólares no bolso” — eis aqui o início de On the Road.
Tido como escritor-viajante, cuja prosa é especialmente focada na experiência vivida, Kerouac utiliza a América como objeto de sua literatura. É seu país a experiência em si. De forma espontânea como sua escrita, Kerouac acaba sendo o principal expoente de uma espécie de “new american deal” que surgia, em contraponto justamente ao american way of life vigente desde o fim da II Guerra Mundial. Ao contraponto deu-se o nome de Contracultura.
Ele não estava sozinho, por óbvio. Havia os beatniks. Ou geração beat. A rigor, um movimento literário nascido nos Estados Unidos em meados dos anos da década de 1950. Seus expoentes maiores foram a santíssima trindade formada pelo poeta Allen Ginsberg, o ensaísta e romancista William Burroughs e o próprio Jack Kerouac.
Sua abrangência consiste de muito mais: um fenômeno de transformação além de artística e estética, também social, comportamental e política. É possível dizer que a geração beat foi a geração que mudou o mundo. Seus efeitos são possíveis de notar até os dias de hoje.

Para além da literatura os beatniks influenciaram, por exemplo, a moda. Até mais ou menos a época da Segunda Guerra, no mundo ocidental — o mundo a nossos olhares —os homens vestiam ternos, as mulheres saias ou vestidos, praticamente sem alteração.
Nas camadas mais baixas da sociedade, entretanto, logo após a guerra apareceu um tipo diferente de adulto, especialmente entre os jovens. Homens trajando blusões ou camisetas, batas, mulheres com calças compridas. O blue jeans, roupa restrita apenas à classe operária, surge como traje de passeio natural.
Começaram a infestar em bando clubes de jazz de grandes cidades americanas como Nova Iorque, Chicago e Los Angeles. Normalmente em grupos, sempre empunhando algum instrumento musical, quase todos músicos de ocasião, homens e mulheres livres. Não necessariamente formando pares uns com os outros, mas apenas amigos. Eram facilmente identificáveis.
E pelo visual diferente, considerado pouco abastado, foram denominados beats, uma alusão ou variação do termo/gíria beaten down, que faz referência a pessoas de baixa estratificação social, rebaixados, oprimidos. Algo como “gente do submundo”. E assim foi. Assim se assumiram. Hoje todo mundo veste a roupa que quiser, mas na época era diferente, e foi determinante.

A proliferação destes jovens pelas cidades resultou no movimento folk que invadiu Nova Iorque no começo dos anos 60, e deu ao mundo cantadores como Joan Baez e um tal Bob Dylan, pra citar dois nomes. Gente que acabaria por mudar completamente o mundo, com os hippies e toda contracultura que veio a seguir. A palavra “Beatles”, tal e qual, também é uma aliteração do termo “beat”, daí mais relacionado à “batida”, ritmo, mas com referência óbvia a tudo aquilo.
Quanto ao principal, sua literatura era igualmente uma espécie de retrato daquele submundo. Não que a produção literária norte-americana já não houvesse colocado em evidência personagens do submundo, desde Jack London, passando por John Fante e John Steinbeck, entre outros. Mas sempre casos isolados, nunca algo que dê pra chamar de “movimento”, como foi o beatnik.
A literatura beatnik por excelência passa a também registrar a busca por algo maior. Um lugar não apenas no mundo, é possível dizer. Mas no universo. Talvez por isso Jack Kerouac também se referia ao termo beat como corruptela de “beatificado”. Beatificated, em inglês. Além de retratar o loser, o oprimido, havia uma aura de busca.

Talvez por isso eles estivessem sempre viajando, atravessando a América, percorrendo rodovias. E também provavelmente por isso adotaram São Francisco como meca. A ensolarada Califórnia em contraponto à industrializada e cinzenta Nova York. Não à toa, o grande romance da beat generation é justamente On the Road.
O interesse pelos beats no Brasil vem de muito antes de sua publicação tardia em 1984. Poetas da geração paulista de Roberto Piva e Claudio Willer os estudavam no original, muito antes das primeiras traduções aportarem em terras brasileiras. O livro de Claudio Willer, Geração Beat e Anarquismo Místico, edição da L&PM de 2014, certamente traz a abordagem mais completa já realizada no país.
Não é possível esquecer as mulheres. Poetas como Elise Cowen, Hettie Jones, Diane di Prima, Joyce Johnson, Denise Levertov, entre outras, também faziam parte bastante significativa do movimento, sempre presentes em leituras, publicações, e nos mais diversos happenings promovidos ao logo de muitos anos por este grupo fundamental para a vida e a sociedade americana e do mundo inteiro.

On the Road traz o personagem real Neal Cassidy, no romance chamado de Dean Moriarty, “o ladrão de carros de Denver”. Neal é a própria encarnação ideal de Kerouac àquilo que veio a ser o beatnik. No livro, Kerouac é Sal Paradise, que narra e acompanha as aventuras de Neal.
E as contradições da América não podiam mesmo parar por ali. Quem diria que Jack Kerouac seria depois um arauto do reacionarismo republicano norte-americano? Pois foi assim. Kerouac apoiou no fim de sua vida o armamentismo e a Guerra do Vietnã, condenando em raras entrevistas os hippies e a contracultura. Uma guinada inimaginável.
Jack Kerouac morreu pobre e amargurado, vivendo com a mãe, fechado em suas posições controversas e conservadoras, em 1969. Tinha 47 anos.
…
Leia. Ouça. Assista:
Na Estrada – filme de Walter Salles, 2016
Pé na Estrada – livro.
Geração Beat e Anarquismo Místico, Claudio Willer, edição da L&PM de 2014
…
Imagens: reprodução